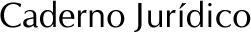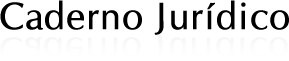ESPAÇO ACADÊMICO
Garantias constitucionais: o perigo da flexibilização do texto legal em detrimento da "melhor justiça"
 Bernardo Amaral: interpretação principiológica não pode ser utilizada para fundamentar as razões morais de um julgador
Bernardo Amaral: interpretação principiológica não pode ser utilizada para fundamentar as razões morais de um julgador
De primeiro plano, gostaria de saudar os amigos e leitores do Caderno Jurídico! É com imensa alegria que escrevo para este jornal, o qual sou ávido leitor! Agradeço, inicialmente, ao professor Felipe Dalenogare Alves pelo convite e confiança.
As breves considerações que tecerei irão discorrer, mesmo que sumariamente, sobre as dicotomias jurídicas que mais tem sido alvo de discussões, quais sejam a doutrina “romano-germânica” e a “common-law” uma vez que o diploma legal, ao menos pelo que se apresenta momentaneamente, cada vez mais é desprivilegiado em razão da vontade de “melhor garantir a justiça”.
Para iniciarmos a nossa conversa, imaginemos que você está em seu escritório de advocacia quando, pela porta, entra um senhor pedindo para que você seja seu advogado em um caso criminal em que estão imputando-lhe o crime de estupro e, como se não bastasse, assume o crime diante de vós. Qual sua atitude? Qual sua resposta?
A verdade é que, neste caso, pouco importa a resposta para a pergunta, pois caso o advogado aceite, pode argumentar que está cumprindo com sua função constitucional ao realizar a defesa de uma pessoa e garantir que seu julgamento seja justo e isso em nada irá mudar o fato de que, moralmente, ainda detém repúdio ao crime de estupro. De outra forma, caso não aceite, simplesmente deixou-se levar por seus instintos morais e não há problema nenhum nisso, afinal, algum colega irá aceitar o encargo.
A breve história que narrei é para ilustrar que, quando nos deparamos com a quebra de conceitos morais, é justamente o momento em que se fraqueja e muitas vezes o jurista sente-se seduzido pelo poder de “gerar a melhor justiça”, mesmo que para isso acabe incorrendo contra o Direito.
Não é de hoje que cada vez mais doutrinadores vem se dedicando a escrever sobre o ativismo judicial e, nesta toada, é que muitos estudantes acabam criando a imagem de que, no Brasil, basta fundamentar em princípios, mesmo que vagos, para se conseguir buscar o direito de alguém e acabam esquecendo o texto legal, aliás, constroem uma base de estudo para convencer o Judiciário de que o legislador não queria escrever aquele texto quando o escreveu.
Inicialmente, cabe diferenciar os princípios das normas. Nesse sentido, a norma é a forma de expressão do direito e esta subdivide-se em regras e princípios, sendo que as regras consistem em determinar uma situação, ou seja, ocorrendo determinado caso, incorre à regra. Por outro lado, os princípios são diretrizes gerais que fazem parte de um ordenamento jurídico. Aliás, vale o seguinte exemplo: o inquérito policial instaura-se para apurar possível infração penal e a sua autoria - artigo 4º do CPP -, porém os princípios são preceitos gerais como por exemplo, ter a presunção de inocência. (GOMES, 2015)
Deixe-me relatar o porquê escrevo sobre isso. Acontece que, justamente a poucos dias atrás, me peguei conversando com um colega de sala de aula que me passou a seguinte informação: “viste que o silêncio pode ser usado contra o réu? [1]” Obviamente que no mesmo momento eu fiquei curioso e pedi pra que ele me explicasse do porquê desta decisão, sendo que prontamente foi respondido: “Não li a decisão inteira, mas parece correta a atitude do julgador.”
Neste momento, entendi que meu colega, levado pelo afã midiático não entendeu que estava soterrando duas garantias penais em nome do ativismo judicial e nem estava percebendo. Aliás, é isso que geralmente ocorre quando nos encontramos na encruzilhada do direito em que você segue seus instintos morais e os deixa falar mais alto ou acaba não sendo seduzido e se entrega a fazer a justiça que o direito determina.
Devemos seguir com maior retidão para que não seja possível abertura de fissuras num sistema, criando insegurança jurídica.
A pergunta referente ao caso é: aonde foram as garantias do direito ao silêncio e o direito da presunção da inocência? No Direito Penal, consabido é que o Estado tem o dever de provar o fato criminoso bem como o agente causador e, em se tratando de matéria penal, não existe inversão do ônus da prova. Não pode ser exigível que, em um Estado que se intitula democrático de direito, faça-se com que o réu chegue condenado em uma audiência e só seja absolvido das acusações se conseguir provar sua inocência [2]. De mais a mais, podemos ver que a juíza alega que “o réu permaneceu calado perante a autoridade policial, conduta incompatível com aquele que brada por sua inocência”, mas qual é atitude exigível na opinião da julgadora? O que vale é a opinião moral da julgadora em detrimento ao princípio constitucional? O que aconteceu com o artigo 186 do Código de Processo Penal? Ao que aparenta, no caso in concretu, a autoridade se viu diante dos seus valores morais e optou por eles, ao invés de garantir que a norma fosse cumprida. Não obstante, o próprio jurista Dworkin ensina que o julgador utiliza princípios para sua fundamentação e não sua moral ou inclinações arbitrárias.
Me parece interessante trazer para esta coluna jornalística o que disse o Prof. Lenio Luís Streck: “[...]por mais que um discurso moral, político ou econômico seja tentador, ele deve pedágio ao Direito. Alguém pode até confessar que matou alguém, mas, se essa confissão for produto de uma intercepção telefônica ilícita, deve ser absolvido, porque a prova foi ilícita. Esse é o custo da democracia[...]. [3]. Sendo assim, temos que o direito não deve ser regido pela moral, mas sim pelo próprio direito, pois ele é o garantidor da democracia.
De toda sorte, não podemos analisar somente esta decisão e acharmos que é medida que se impõe como regra a todos os que julgam – seria leviano tirar tal interpretação ou até realizar tal afirmação-, justamente porque esses apontamentos são para percebermos o quanto somos colocados a “pagar” pedágio ao direito e muitas vezes procuramos atalhar. Sim, uso a palavra nós porque sou testemunha de vários colegas que, para defenderem posicionamento, remontam um arcabouço imensurável de princípios para fundamentar um texto que contraria a normatividade constitucional.
Recentemente, o Ministro do STJ, Saldanha Palheiro, também declarou em entrevista[4] que considera o ativismo judicial atentatório a ao princípio da segurança jurídica, uma vez que este estaria exacerbando as considerações pessoais dos julgadores à frente da própria norma legal. Ainda, na mesma entrevista, disse que coadunar com este tipo de prática é o mesmo que "dar um cheque em branco para o Judiciário". A entrevista do ministro se torna importante no sentido em que demonstra que o próprio Poder Judiciário está passando por um momento de análise e, porque não, de uma autocrítica no sentido de entender melhor este movimento.
Vale, ainda, rememorar que a nossa Carta Constitucional é rígida, em sua classificação, justamente para fins de dar maior segurança jurídica. Sendo assim, temos que o sistema jurídico deve se amoldar aos preceitos constitucionais. Nesse sentido, vale dizer que o controle judicial independe de tradição. Em outras palavras, é válido dizer que existe presunção de que as leis vigentes são constitucionais e devem ser aplicadas conforme seu texto.
O controle da constitucionalidade das leis pode ser difuso ou concentrado. Será difuso quando o controle for realizado por meio de todos os membros do Judiciário, ou seja, em primeira e segunda instância. De outro lado, O controle direto, dar-se-á quando realizado por órgão de competência exclusiva de corte constitucional.
Neste sentido, vejamos a decisão que repercutiu na mídia, até com certo repúdio de muitos colegas, sobre a análise do HC 143641[5] que tratou do aprisionamento de mulheres que tenham filhos menores de doze anos e gestantes, que restou provido para aceitar o habeas corpus coletivo favorável. Este é trazido por alguns críticos como “um dos maiores exemplos do ativismo judicial”. Perceba, porém, que necessitou-se que a matéria fosse discutida até o Supremo Tribunal Federal para se fazer cumprir a lei. Tratou-se, portanto, de mero cumprimento da norma. Mesmo assim, muitas pessoas foram absolutamente contrárias ao posicionamento do STF. Será que toda a Lei aprovada, a partir de agora, passará pelo crivo analítico do Supremo Tribunal Federal, para somente após a sua concordância, entrar em vigor?
Muitas das pessoas que se posicionaram contra a decisão proferida, no referido HC, acabaram sendo levadas pelo seu instinto moral. Mas porquê? Talvez seja porque muitos projetam o seu estilo de convivência familiar na situação apresentada, logo, não conseguem imaginar sua mãe cometendo crime, ou até não entende concebível que uma aprisionada possa ter designação de mãe. Nesta toada, é que remonto para que, ao invés de julgar com a nossa moral, ou seja, o nosso conhecimento familiar, realizemos o seguinte exercício: Parece exigível que uma criança nasça em condições absurdamente insalubres e de muito baixa segurança? Obviamente que a resposta é não, pois é claro que, deste ponto de vista, a situação muda completamente, uma vez que colocamos o direito da criança à frente do direito da mãe.
Não parece ser exigível que se condene uma criança a passar pelo mesmo calvário que a mãe esteja passando, bem como não é possível que privemos a chance da criança ter o carinho da mãe, pois temos que pensar no melhor interesse da criança. Nesse sentido, vale rememorar o princípio basilar do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o da proteção integral da criança, consubstanciado na forma do artigo 227 da Constituição.
O exemplo acima serve para demonstrar o quanto a perspectiva de uma situação pode mudar a interpretação, motivo pelo qual não podemos nos deixar levar pela moral, mas seguir com maior retidão possível para que não seja possível a abertura de fissuras em um sistema e acabe criando insegurança jurídica.
Dito isso, passo a rumar para a finalização da explanação, esperando que tenha possibilitado uma maior compreensão do que realmente podemos considerar ativismo judicial, para que vejamos que interpretação principiológica não pode ser utilizada para fundamentar as razões morais de um julgador. O que se discutiu aqui foram atos isolados para exemplificar e melhor identificar quando estamos diante de decisões morais ou judiciais.
Sendo assim, vale deixar claro que tudo o que foi relatado há de ser para a realização de uma autocrítica entre os estudantes do direito, justamente para que seja possível identificar, nas suas próprias atitudes as que são realizadas por impulso moral e as que são realizadas pelo pensamento democrático de direito. De toda sorte, vale lembrar que devido ao espaço ser mais “apertado”, não é possível discorrer extensivamente e exaustivamente sobre o tema, que certamente demandaria muitas e muitas laudas sobre moral, ética, Constituição, direito, enfim, tudo que possa vir a demostrar um norte neste tema que cada vez mais parece espinhoso aos que tocam.
De última banda, encerro este artigo aproveitando a oportunidade para agradecer, mais uma vez, a confiança que me foi depositada pelo professor Felipe Delenogare Alves e indicar a aprazível leitura de sua obra “Judicialização e Ativismo Judicial”, publicada pela editora Lumen Juris, que muito elucidará o tema. Também, aproveito para desejar a todos um ótimo mês de março, que seja repleto de luz para todos e que eu possa estar no convívio de vocês, meus amigos, mais e mais vezes.
---------------------------------------------------------
[1] SALLES, R. H. D. S. Tribunal de Justiça de São Paulo. Tribunal de Justiça de São Paulo, 2017. Disponivel em: <http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/02/ee47cd1a6221d6daebcdb32af1bc151a.pdf>. Acesso em: 24 fevereiro 2018.
[2] STRECK, L. L. Conselho Nacional de Justiça. Conselho Nacinal de Justiça. Disponivel em: <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/abrirDocumentoEdt.do?nuProcesso=0000807-46.2017.8.26.0318&cdProcesso=8U00015RF0000&cdForo=318&baseIndice=INDDS&nmAlias= PG5JUNDS&tpOrigem=2&flOrigem =P&cdServico=190101&ticket=MX0UHU9QI3xhDMra FDVa7so7DbaRQP0ciU9v3jTQY9C>. Acesso em: 10 janeiro 2018.
[3] STRECK, L. L. ConJur. Conjur, 2018. Disponivel em: <https://www.conjur.com.br/2018-jan-25/senso-incomum-458-ac-2018-dc-derrota-vinganca-vitoria-moral>. Acesso em: 26 fevereiro 2018.
[4] GALLI, M. ConJur. ConJur, 2017. Disponivel em: <https://www.conjur.com.br/2017-dez-05/ativismo-judicial-perigoso-provoca-inseguranca-ministro-stj>. Acesso em: 26 fevereiro 2018.
[5]http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=143641&classe=HC&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
-----------------------------------------------------------
Bernardo Amaral da Rocha é acadêmico do curso de Direito da Faculdade Dom Aberto, FDA, em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Participante do grupo de estudos “Intersecções Jurídicas: entre o público e o privado”, da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). É estagiário do Fórum da Comarca de General Câmara/RS.
Publicado no impresso de março de 2018.