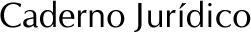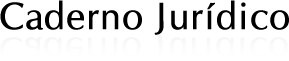Política
Frases e vidas
 “Na nova onda de políticos que então brotou do nada, o justo orgulho de representar as “classes populares” passou a comprovar-se mediante a apresentação de um novo e inusitado tipo de credencial: o direito à ignorância”, afirma Olavo
“Na nova onda de políticos que então brotou do nada, o justo orgulho de representar as “classes populares” passou a comprovar-se mediante a apresentação de um novo e inusitado tipo de credencial: o direito à ignorância”, afirma Olavo
Abraham Lincoln, que de lenhador se fez presidente, teve ainda fôlego para se tornar, mediante o estudo dos clássicos, um dos maiores estilistas da língua inglesa. Theodore Roosevelt, no intervalo de lutas políticas e aventuras militares, escreveu ensaios literários que ainda hoje se lêem com proveito. Nada digo de Jefferson, intelectual dentre os mais notáveis do seu tempo, muito menos dos Adams, uma dinastia de eruditos. Saltando de continente, admito que devo a Sir Winston Churchill algumas das horas de leitura mais divertidas e estimulantes que já vivi, e da filosofia moral de Lorde Balfour só tenho a lamentar que autor tão bom escrevesse tão pouco.
Na França ninguém chegou a presidente ou primeiro-ministro sem que uma digna folha de serviços literários lhe abrisse caminho. Não preciso citar gênios como Clemenceau ou de Gaulle: mesmo o humilde Georges Pompidou, em campanha, jamais deixava de fazer uma pausa para proferir eruditas conferências sobre Racine ou Victor Hugo. Já se disse que um político francês não liga para imputações de corrupção, mas chega a bater-se em duelo se acusado de um erro de gramática. Mas essas coisas não acontecem só em países estrangeiros.
O Brasil antigo deu belos exemplos de consciência literária em políticos eminentes. A tradição nasce com o fundador mesmo do nosso país, o Andrada. Ele fixou um nível de exigência sob cuja autoridade floresceram, na política nacional, infindáveis personalidades intelectuais de alto calibre, de José de Alencar a Joaquim Nabuco, de Oliveira Lima a Ruy Barbosa. A República, a Revolução de 30 e o regime militar conservaram o padrão, mesmo declinante. Mas esse Brasil morreu, abruptamente, na década de 80. A pretexto de democratização, abriram-se às portas a uma autêntica “invasão vertical dos bárbaros”.
Na nova onda de políticos que então brotou do nada, o justo orgulho de representar as “classes populares” passou a comprovar-se mediante a apresentação de um novo e inusitado tipo de credencial: o direito à ignorância, fundamentado na origem pobre de Suas Excelências.
Malgrado o fato de que ao longo da nossa História o crescimento da corrupção acompanhasse a curva ascendente da participação popular na política, continuou-se a proclamar como um dogma inquestionável o refrão de que “o mau exemplo vem de cima” e a não ver mal algum na presença maciça de semi-analfabetos e mocorongos em postos de responsabilidade.
Ao contrário, tornou-se hábito e até obrigação moral admitir que pessoas de origem humilde, ao ascender aos primeiros escalões do poder, continuassem a cultivar, ao menos em público, uma auto-imagem de pobres e oprimidos, como se seus salários de deputados ou governadores não bastassem para custear sua educação e libertá-los de sua miséria cultural originária.
O Brasil antigo deu belos exemplos de consciência literária em políticos eminentes. Mas esse Brasil morreu, abruptamente, na década de 80.
Eu, que, neto de lavadeira e filho de operária, julguei ter o dever de estudar para defender a honra da minha classe humilhada — e que ao assim proceder não fiz senão seguir os passos de um Machado, de um Cruz e Souza, de um Lima Barreto e de tantos outros que na minha ingenuidade supus exemplares –, passei a me sentir, no novo ambiente, um anormal. A moda agora era o sujeito vir da ignorância e, subindo, permanecer nela, cultivá-la e atirá-la ao rosto da sociedade, com o orgulho masoquista da vítima que exibe suas chagas para atormentar o culpado. Mas todo exibicionismo forçado tem limites. O orgulho da ignorância é tão hipócrita que, na mesma medida em que se exibe, procura ocultar-se.
A prova é que muitas dessas criaturas alternam seu desempenho populista de iletrados orgulhosos com tentativas de fazer-se passar por jornalistas e escritores, publicando artigos e livros escritos por anônimos terceiros. Governantes atarefados, ou sem talento específico para determinadas matérias, sempre recorreram a redatores auxiliares. A diferença é que hoje quase todos os políticos, mesmo insignificantes e desocupados, têm seu “ghost writer”, não porque lhes falte tempo ou o domínio de assuntos especializados, mas simplesmente porque lhes falta o conhecimento da língua geral do Brasil.
Trombeteiam nos palanques em defesa da “identidade nacional”, mas não concedem sequer a homenagem de uns minutos de atenção ao primeiro e essencial componente dela: o idioma. Tornado habitual, esse uso passa por inocente. Poucos se dão conta de que ele revela o caráter de farsa grotesca, e no fim trágica, assumido desde há alguns anos por todo o chamado “debate político nacional”. O homem que não domina as palavras é dominado por elas: vive num mundo de ilusões verbais, que toma por realidades. Quando consegue montar uma frase, imagina que provou um fato. A fala, em vez de ser uma janela para o mundo, substitui o mundo. É a auto-hipnose verbal tomando o lugar do conhecimento.
É o psitacismo elevado à condição de suprema ciência. Sempre que me vejo na circunstância de discutir com um desses sujeitos, sinto-me tentado a desanimar ante a inutilidade do empreendimento. Na melhor das hipóteses, o infeliz captará a lógica das palavras, sem a mínima intuição das realidades subentendidas, e fará frases, julgando que me refutou. Por isso, em vez de discutir com eles, talvez seja melhor apenas descrevê-los, na esperança de que se reconheçam na descrição e, num relance, tenham uma salvadora visão do imensurável ridículo de suas vidas fingidas.
Olavo de Carvalho é um dos filósofos brasileiros de maior expressão na atualidade. Saudado pela crítica como um dos mais originais e audaciosos pensadores do Brasil. Professor, jornalista e escritor. Autor de vários livros, entre eles o best seller “O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota”. Acesse puggina.org, olavodecarvalho.org, cadernojuridico.com.br e dcomercio.com.br.
Publicado originalmente em Zero Hora de 25 de março de 2001. Está na versão impressa do Caderno Jurídico de março de 2018.